Na arte de viver, o homem é o artista e, ao mesmo tempo, o objeto de sua arte; o lapidador e, simultaneamente, a pedra a ser lapidada. Embora biológica e culturalmente em parte programado, o ser humano sempre também se pode decidir por algo ainda não programado. Pressionado pelas circunstâncias
que o cercam, haverá sempre mais caminhos que podem ser seguidos.
O homem não só pensa mas também age em relação a si mesmo, em relação aos semelhantes e em relação ao mundo, pois conduz sua vida. Para isso ocupa-se com seu corpo, com sua própria pessoa, com seu próximo, com a comunidade, com a natureza e com as coisas produzidas pelo homem.
Dizemos que adquire, assim, experiência do mundo, através de relações pessoais e dentro de estruturas institucionais, confrontando-se, dessa maneira, não só com problemas práticos, mas também teóricos.
Diante dos problemas práticos, indagamos: O que devo fazer? Mesmo quando se trata de uma questão prática, precisamos refletir, pois precisamos fundamentar nossa ação, ponderá-la com critérios. Tudo isso cabe ser feito, antes de mais nada, diante da própria consciência, depois perante as instâncias da sociedade. O homem submete-se ao juízo próprio e dos outros, pois não vivemos sozinhos. Cada pessoa pergunta-se, em determinadas situações, o que deve fazer e o que deve deixar de fazer. Cada pessoa faz, reiteradas vezes, a experiência de ter feito algo que não deveria ter feito. Cada pessoa julga seu próprio agir e o agir de outros segundo critérios que ela e outros não conseguem satisfazer. Ora, a ética ocupa-se com tais experiências e questões. Os filósofos não inventaram os problemas éticos. Surgem em nossa experiência cotidiana.
Baseados nas convicções éticas costumeiras, julgamos boas ou más as nossas ações e as dos outros.
A história e a própria experiência mostram-nos que a questão do que se deve fazer ou deixar de fazer, do que é bom ou mau, certo ou errado é uma questão situada dentro de culturas, sociedades, que desenvolveram sistemas e hierarquia de valores. Sabemos que em cada sociedade há comportamentos
considerados bons outros maus. O indivíduo nasce, por assim dizer, para dentro de uma cultura com um conjunto de regras, prescrições e orientações de conduta para a tornar reta. Dentro desses sistemas, a pessoa sabe seus direitos e deveres. Sistema social e moral constituem uma unidade. Enquanto o sistema não for questionado, sabe-se o que é permitido ou proibido.
Todos os povos têm algumas regras fundamentais em sua moral cotidiana, como, por exemplo: não deves matar; não deves mentir; não deves enganar; não deves roubar; deves ter compaixão; deves estar disposto a ajudar; cumpre tuas promessas; não causes sofrimento. Tais normas aprendemos desde crianças na convivência com os adultos, ao aprendermos a língua materna, e as interiorizamos, tornando-as uma espécie de instância para nossos juízos, que geralmente chamamos consciência.
Com o decurso do tempo, tomamos consciência desses valores herdados, questionando-os criticamente em busca de justificação racional. Aos poucos, passamos da moral irrefletida e heterônoma para uma moral refletida e autônoma. Agimos, então, por convicção própria. Saímos da menoridade para a maioridade, usando nossa própria razão para agir livre e responsavelmente.
Para agir responsavelmente, o homem busca o apoio em princípios sólidos. Tais princípios o remetem à filosofia ou à teologia. Além disso, recorre às ciências experimentais, buscando dados e informações em busca de uma melhor visão do panorama no qual age. O pressuposto antropológico fundamental na conduta da vida é que o homem é livre. Nisso o homem se diferencia de outros animais, que não são livres porque programados por seus instintos. Devem ser o que são e fazer aquilo para o que foram determinados pela natureza. O homem pode decidir-se por determinadas ações e conceitos de sua conduta de vida.
É verdade que também para o homem há muitas determinações. É formado por fatos e necessidades biológicas, é determinado geneticamente, está arraigado numa sociedade que o precede e culturalmente o forma. Dessa maneira, a conduta humana é previsível sob alguns aspectos. Mas o fáctico nele não exerce uma força absolutamente normativa. É capaz de autodeterminar-se, distanciando-se dos impulsos e de mecanismos naturais e culturais. Apesar dos condicionamentos, o homem pode reagir, pois a questão “o que devo fazer?” tem sua premissa num sujeito capaz de autodeterminar-se, responsabilizando-se pelas conseqüências de suas decisões.
A filosofia e a teologia concordam em que cabe à razão discernir a validade de normas e valores. Somente o sujeito é a instância para reconhecer a legitimidade de reivindicações. A razão examina sua verdade enquanto tem sentido humano e for eticamente responsável nas condições concretas da vida.
Filosofia e teologia, entretanto, divergem quanto à dedução de regras válidas e critérios. A filosofia postula poder deduzir normas exclusivamente da razão, enquanto a teologia coloca a própria vida no contexto da revelação divina. A ética teológica desenvolve-se em conexão com a realidade da vida da fé em Deus. A ética filosófica tematiza a força da razão frente aos desafios da existência. Ambas situam-se na práxis concreta da vida.
A questão ética surge, quando se questionam evidências. A reflexão sobre o que é bom ou mau começa, quando aparecem opiniões contraditórias sobre o que a pessoa deve fazer ou deixar de fazer. Sob esse aspecto, ética é o esforço racional para encontrar um critério de validade geral, a partir do qual possamos julgar ações e formas de vida.
Há duas grandes objeções contra a possibilidade de uma ética filosófica:
1. Alguns afirmam que não existem critérios universais para dizer o que é bom. Para esses, todos os critérios para juízos morais de nosso agir são histórico-culturais. Em conseqüência, a afirmação do que é bom para todos é histórica e culturalmente condicionada.
2. Outros afirmam que atitudes e juízos morais dependem de decisões que, por sua vez, não podem ser fundamentadas racionalmente.
Nos tempos modernos, a ética filosófica assume as seguintes características:
1. A indagação pelo dever, pelo certo e bom deve ser respondida de tal maneira que todas as premissas sejam examinadas criticamente. A ética não se funda em autoridades, tradições ou hipóteses, mas na racionalidade. Elimina-se, assim, o recurso a Deus ou a uma instância metafísica.
2. Relacionando e vinculando o bom e o dever, a ética apresenta-se como normativa: trata-se do interesse bem-compreendido de cada um, daquilo que todos realmente querem, de princípios de uma vida razoável. Diante dessa colocação, naturalmente surge a pergunta como fundamentar tais regras
comuns de maneira intersubjetiva a ponto de convencer a todos, serem reconhecidas, e cada um seria obrigado a segui-las.
3. Essas normas certamente não decorrem da própria natureza, não são descobertas por métodos empíricos, mas são criações funcionais do próprio homem. São um produto da razão humana. Apesar disso, reivindicam o compromisso de todos se submeterem a elas.
4. Normas são de natureza reguladora, desenvolvem e ordenam a conduta individual, de acordo com concepções gerais da felicidade, sob a perspectiva de necessidades verdadeiras.
A ação humana, portanto, não se realiza de maneira arbitrária, mas orienta-se em critérios, por exemplo, nas virtudes cardeais de Platão (sabedoria, coragem, justiça e sobriedade), no amor cristão ao próximo ou naqueles valores de bens que pertencem à vida humana (vida, liberdade e propriedade).
Seria dispensável falar de ética, se o homem conduzisse sua vida conforme regras inerentes à própria natureza e estivesse determinado totalmente pelas mesmas. A atividade humana realizar-se-ia simplesmente de acordo com a natureza, de maneira instintiva. A ética também seria supérflua, se o homem sempre fizesse o que deveria fazer, ou seja, sempre agisse bem. Nesse caso, seria desnecessária uma disciplina que se ocupasse com o agir humano sob o aspecto do bem e do mal. Quando muito poderia estudar-se a natureza humana.
Portanto, para falar em ética, pressupõe-se que o homem seja livre para construir sua própria vida. Em segundo lugar, pressupõe-se que nem sempre aja bem, que muitas vezes deixa de fazer o que deveria, ou erra naquilo que faz. Em terceiro lugar, pressupõe-se, outrossim, que o sistema social vigente perdeu sua autoevidência moral.
Em vista das considerações feitas, podemos dizer que a ética filosófica é a reflexão crítica sobre o agir humano na perspectiva do bem e do mal. Nessa definição encontramos três elementos importantes:
1. Reflexão crítica: esta em geral surge, quando desaparecem as evidências. Atualmente a maior dificuldade da ética é o desafio das novas possibilidades da tecnociência para as quais faltam parâmetros.
2. Agir humano: o objeto da ética não é propriamente a conduta, mas o agir responsável, segundo o qual o homem conscientemente conduz sua vida. O agir pressupõe razão e liberdade, a idéia de pessoa, identidade mantida através das mudanças. Nem todos os atos da pessoa humana situam-se no nível ético em sentido estrito. Muitas decisões e reações são instintivas e inconscientes. O nível ético começa, quando surgem perguntas como: por que considero isto certo e aquilo errado? Que valores me levam a decidir assim? Que é preciso fazer para viver melhor?…
3. O conceito de bem: a ética estuda o agir humano na perspectiva do bem, do que deve ou não deve ser
feito.
Na modernidade confrontam-se duas diferentes concepções éticas que, sem apelar a autoridades, a partir do critério da razão, querem definir compromissos éticos:
1. A ética deontológica orienta-se na determinação da vontade, independentemente da meta que a ação realizada alcança de fato.
2. A ética teleológica ou conseqüencialista parte do pressuposto de que as metas atingidas, ou seja, as conseqüências decidem sobre a moralidade da ação.
Desde a Antiguidade até ao tempo presente, a ética é estruturada por duas questões: o que devo fazer?
O que é bom? No decurso da tradição de mais de dois milênios, essas duas questões receberam diferentes respostas. Ambas as perguntas estão entrelaçadas, pois o que devo fazer só consigo perceber, quando vejo o
que vale na vida. Nesse sentido, a questão do que é bom precede a questão do que devo fazer.
Na história da filosofia, a questão do que é bom foi interpretada sob aspectos totalmente diferentes, de acordo com diferentes perspectivas de abordagem. A partir da linguagem comum, a meta-ética analisa o significado da palavra “bom” e a traduz para a experiência. A metafísica elabora uma idéia do bem que
fundamenta o primeiro princípio do bem moral. A ética normativa fundamenta e desenvolve o bem moral como um bem incondicional no contexto de uma ética do bem.
Segundo Ernst Tugendhat, existem dois tipos de justificação recíproca de normas: o religioso e o relacionado aos interesses dos membros da sociedade.
O primeiro pode ser denominado de justificação vertical ou autoritária, e o segundo de justificação horizontal. Nas sociedades tradicionais, era vertical, de
tipo religioso (O problema da Moral. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 17).
Segundo Tugendhat, “a moral é um sistema que restringe a liberdade dos membros da sociedade: a moral é um peso que impomos a nós mutuamente. Dali se tem que entender que normas morais só são aceitas pelos membros da sociedade, se eles crêem que as normas são justificadas” (p. 16).
Nietzsche e Dostoiewski pensavam que a moral desapareceria, quando não se justificasse religiosamente. Tugendhat tenta fundamentar a moral, dizendo que “é recíproca, porque consiste em exigências recíprocas” (p. 19). Diz que a “força moral se baseia sobre os interesses de todos que têm um fundamento egoísta para cada um: cada um só está disposto a aceitar as normas, se os outros também as aceitam” (p. 20). Por isso, “bom é o que é igualmente bom para todos” (p. 21). Enfim, a moral ou ética ou se fundamenta na religião ou na antropologia.
Ética aplicada
Princípios éticos devem ser aplicáveis, para decidir em diferentes situações, devem dar sentido ao agir e ser responsáveis. A reflexão ética comprova-se em sua aplicação prática. Normas teóricas têm que mostrar-se adequadas nas circunstâncias da vida real, psíquica e social. Isso significa que devem dar conta dos dados objetivos e poder ser reinterpretadas em condições histórico-culturais alteradas. Por isso a razão ética nunca chegará à meta plena, ao ideal definitivo. Por outro lado, o juízo ético nunca será determinado simplesmente
por leis objetivas. O que é bom ou mau nunca se deduz do que já existe ou é produzível. A razão ética deve considerar a realidade dos fatos, sem, todavia, limitar-se à constatação do que é. Juízos éticos constituem um misto de juízos objetivos e perspectivas éticas.
Em meados do século XX, houve uma explosão de novos campos de interrogação ética, no seio da sociedade. Na década de 1970, começa a falar-se de bioética, ética ambiental, ética dos negócios, etc. Por um lado, a ética tradicional parecia incapaz de responder às questões novas e complexas e, por outro, uma ética relativista tratava das novas questões mais como mero assunto de gosto e sensibilidade do que como objeto da razão. Surge um renovado interesse pela ética, em vista das mudanças sociais no campo da vida privada (a liberação sexual, o materialismo, a contestação das formas de autoridade e tradição, etc.) e no campo da vida pública (a afirmação dos direitos individuais e coletivos). Ora, esse desenvolvimento é impulsionado, sobretudo, pelas técnicas e ciências (tecnociência), associado à idéia
de progresso (melhoria da saúde, vida mais longa, etc.) e, por outro lado, apresentando perigos à sobrevivência (degradação do meio ambiente, manipulação técnica do ser humano, etc.). Novos problemas surgem em situações precisas da vida cotidiana, em hospitais, nas empresas ou nos governos que exigem uma abordagem ética. Em geral, são problemas que exigem uma solução prática e, por vezes, rápida.
Com o tempo, distinguiram-se campos de interesses particulares: bioética, ética profissional, ética do meio ambiente. Cada campo tem seu objeto de investigação ética.
Bioética
A biotecnologia está em condições de intervir, com incrível precisão e rapidez, na informação hereditária, identificando-a, analisando-a e substituindo-a para além dos limites de toda espécie. Células vivas podem ser reprogramadas, para garantir novos produtos.
Existem expectativas de revolucionar a medicina tradicional, através da terapia de células-tronco. A transferência de gens para plantas pode muni-las com novas propriedades, tornando-as mais resistentes às intempéries do clima. Há quem veja nas plantas trans-gênicas uma chance para garantir melhor alimentação à população humana do planeta.
Por outro lado, os críticos da intervenção do homem na natureza, pela manipulação genética de plantas, animais e homens, dizem que tal procedimento contraria a santidade da vida e profana a natureza.
Discute-se até que ponto a técnica genética pode intervir no curso natural da vida. Em geral, não se tem restrições à análise do genoma humano para fins de identificação da paternidade ou em crimes de violência nos quais o criminoso deixou vestígios. O mesmo não acontece em intervenções no genoma humano sem previsão clara das possíveis conseqüências, pois cada pessoa é fim em si mesma, não devendo estar sujeita à manipulação arbitrária por outras. Entramos, assim, no campo da bioética, pois cada avanço pode significar uma promoção ou uma ameaça para o homem todo e todos os homens.
O termo bioética foi cunhado por volta de 1970, pelo oncologista Van Rensselaer Potter, nos Estados Unidos da América, no contexto do questionamento dos avanços das técnicas biomédicas. O Código de
Nürnberg, de 1947, influenciou declarações internacionais posteriores, através de dez princípios relativos à experimentação humana, sobretudo o princípio do consentimento do sujeito. Salienta a necessidade de proteger o ser humano dos abusos do poder do Estado em nome dos Direitos Humanos.
A bioética caracteriza-se, antes de mais nada, pela pluridisciplinaridade relacionada com práticas tecnocientíficas diversas (medicina, biologia), disciplinas chamadas a confrontar seus pontos de vista (direito, filosofia, teologia, etc.). A maneira de pensar um problema ético particular, como o da modificação do genoma humano, pode variar de uma disciplina para outra. A bioética, em segundo lugar, apresenta-se na forma de discursos e práticas, por uma análise ética orientada para a tomada de decisão. Pressupõe o diálogo
interdisciplinar.
b) Ética profissional
A ética profissional estuda as normas de conduta no campo profissional. Que é que eu devo fazer ou deixar de fazer, dentro da minha profissão, para ser um bom médico, engenheiro, advogado, professor, etc.?
A profissão não é apenas um meio para ganhar o sustento mas também um serviço a prestar à sociedade. O exercício da profissão envolve responsabilidade ética como aprimoramento de seu serviço e da maneira de
realizá-lo.
Cada profissão tem sua ética profissional, mas há normas que valem para todas as profissões. Assim há exigências da personalidade humana em geral, sobrepondo a pessoa humana aos caprichos da técnica; exigências de formação profissional, pois cada profissão exige preparação séria. O estudo não termina ao iniciar o exercício profissional. Nesse sentido, com o desenvolvimento surgem novas exigências do progresso científico em cada profissão, além das exigências inerentes ao exercício das mesmas.
A ética profissional encontra-se no centro das questões relativas à estrutura social de nossas sociedades industrializadas. Nelas cresce o fenômeno de profissionalização da esfera do trabalho. O setor de serviços, hoje dois terços dos empregos, cada vez mais requer competências especializadas, ou seja,
profissionais. A multiplicação e a evolução das práticas profissionais, aliadas ao fenômeno da burocratização, não só tornam as estruturas mais complexas, mas dificultam as relações sociais. Por isso reflexões éticas ligadas às diversas profissões cristalizam-se em forma de “ética profissional”. A ética profissional não se limita a atitudes de confidencialidade, honestidade, responsabilidade, etc., mas a ética profissional também se interroga sobre o papel social da profissão, suas responsabilidades, sua função, sua atitude frente aos riscos e
ao meio ambiente, etc. Também a ética profissional deve caracterizar-se pelo diálogo multidisciplinar, buscando clarear o dilema ético, com o objetivo de fornecer caminhos normativos e soluções adequadas.
c) Ética do meio ambiente
O homem vive em constante relacionamento com o mundo ao seu redor, um relacionamento que tem um valor moral, ou seja, pode ser bom ou mau, pois pode fazer bom ou mau uso da natureza. Sua maneira de explorar as potencialidades do mundo significam, sempre mais, uma promoção ou uma ameaça para o outro, para as novas gerações. Entre os problemas éticos da preservação da natureza está o da exploração predatória, da poluição, com danos irreversíveis para nosso planeta e ameaça de um suicídio coletivo.
A ética do meio ambiente compreende todo um campo de questões que têm por objeto as relações mantidas pelo ser humano com a natureza (poluição da água, poluição da biosfera, etc.). O aparente progresso da tecnociência pode enganar, e amanhã constataremos que o planeta se tornou inóspito para o
homem por ele ter destruído ecossistemas, produzido materiais destruidores, esgotado os recursos naturais, modificado geneticamente animais, etc. As questões éticas referem-se, aqui, às condições de sobrevivência do planeta, ao lugar do ser humano, à distribuição e uso das riquezas e à responsabilidade para com as gerações futuras. A complexidade dos problemas exige a colaboração multidisciplinar.
A análise dos diferentes setores da ética aplicada permite identificar elementos comuns. É comum a preocupação de responder aos problemas práticos e concretos, muitas vezes ligados a práticas profissionais e sociais, para, através da análise ética, chegar a caminhos normativos. No centro desses problemas, está o desenvolvimento tecnocientífico produzindo uma nova relação com o espaço e o tempo. Em segundo lugar, é elemento comum a necessidade do diálogo multidisciplinar para superar a fragmentação resultante da especialização. Por último, os diferentes setores da ética aplicada apresentam-se na forma do discurso e de práticas.
Para concluir, os novos desafios colocados pela tecnociência mostram, por um lado, que as normas éticas tradicionais tornaram-se insuficientes e, por vezes, inadequadas para nossos dias e, por outro, que urge a preocupação ética para garantir a sobrevivência do homem. O desenvolvimento de sociedades depende cada vez mais da produção e aplicação do saber. Mas, se o próprio homem quiser sobreviver a longo prazo, não deverá fazer tudo que sabe. Deverá agir e viver com responsabilidade ética. A cada momento, surgem
novos problemas que exigem respostas novas. Sem ética, o mundo se tornará mais desumano, e o homem será o único responsável ou irresponsável.
Bibliografia
CANTO-SPERBER, Monique (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. S. Leopoldo: UNISINOS,
2003.
FRANKENA, William K. Ética. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
HONNEFELDER / KRIEGER. Philosophische Propädeutik: v.2 Ética. Paderborn – München – Wien –
Zürich: F. Schöningh, 1996.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. 2.ed. S. Paulo: Abril
Cultural, 1980.
KÜNG, Hans. Projeto de ética mundial. S. Paulo: Paulinas, 1992.
OLIVEIRA, Manfredo A. de. (Org.). Correntes fundamentais da Ética contemporânea. Petrópolis: Vozes,
2000.
OLIVEIRA, Nythamar de. Rawls. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. Lisboa: Presença, 1993.
SÄNGER, Monika. Praktische Philosophie: Ethik. 5.ed. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1999.
TUGENDHAT, Ernst. O problema da Moral. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. S. Paulo: Brasiliense, 1986.
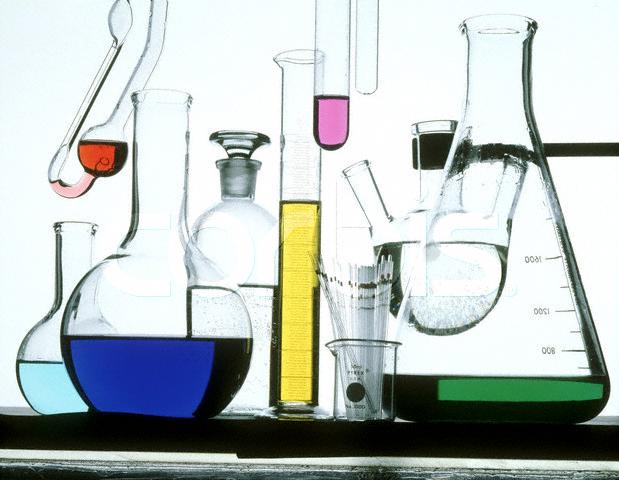
Nenhum comentário:
Postar um comentário